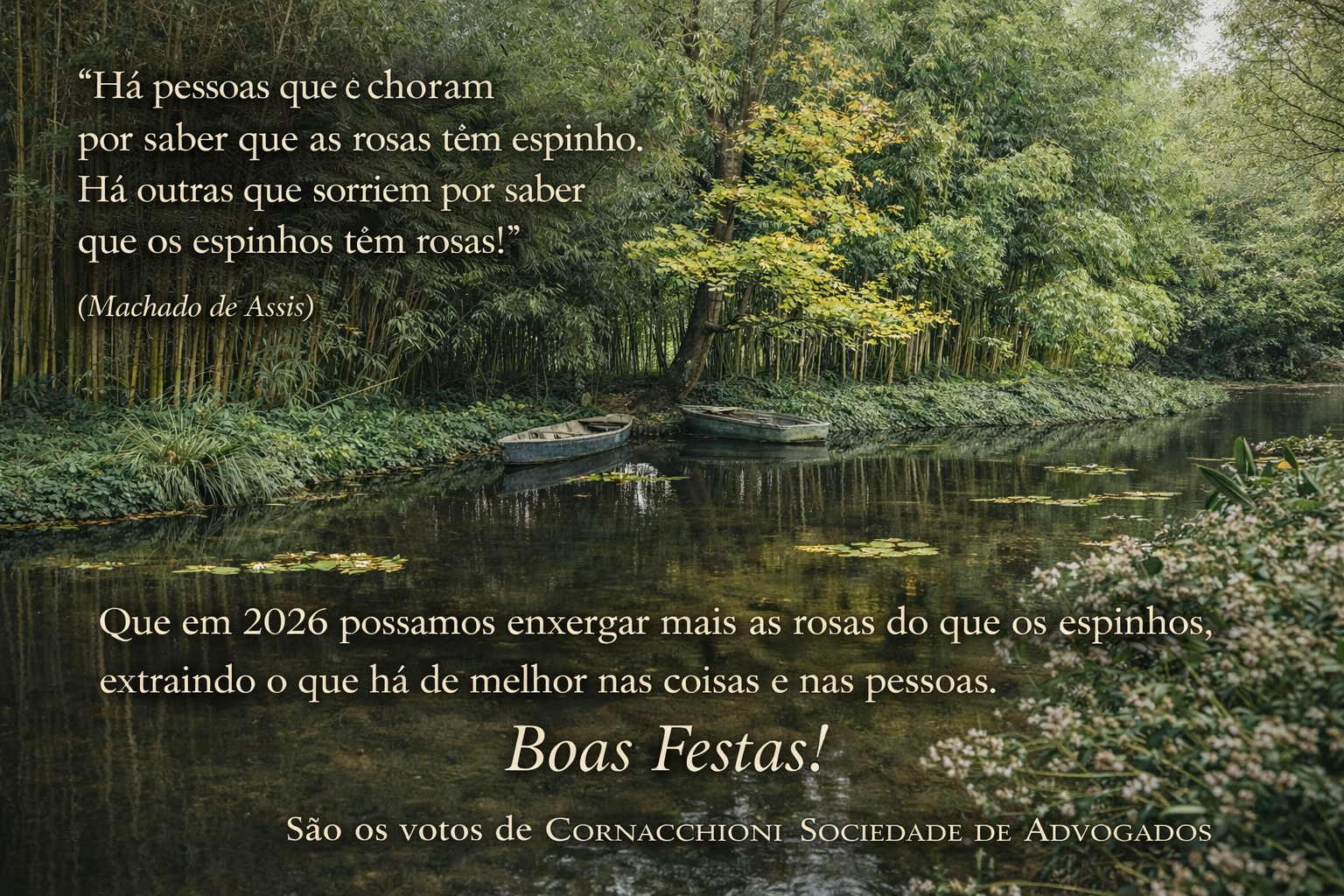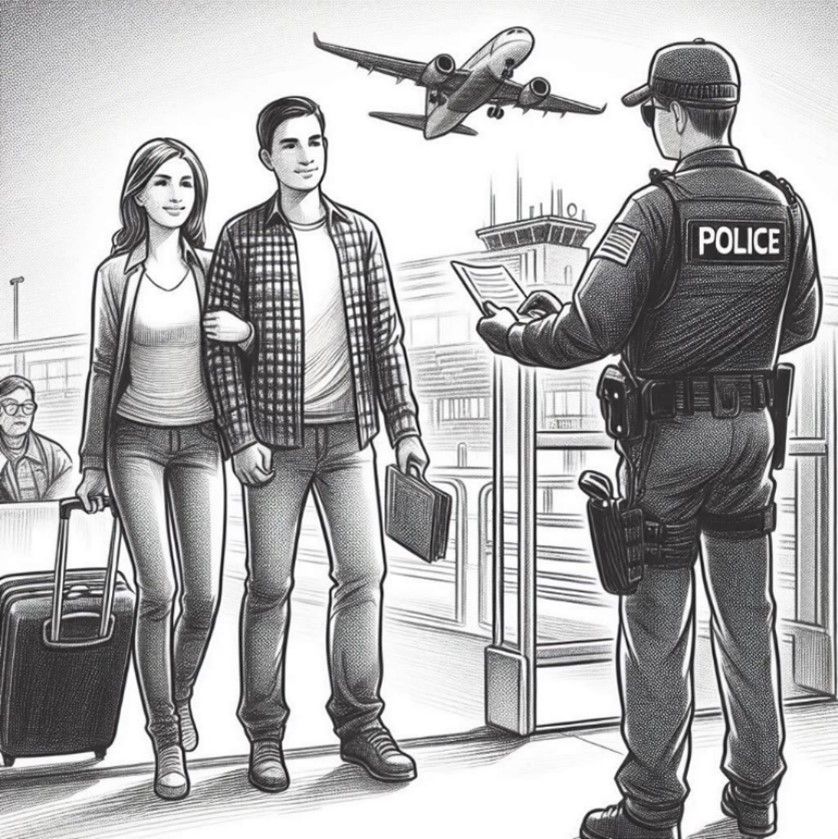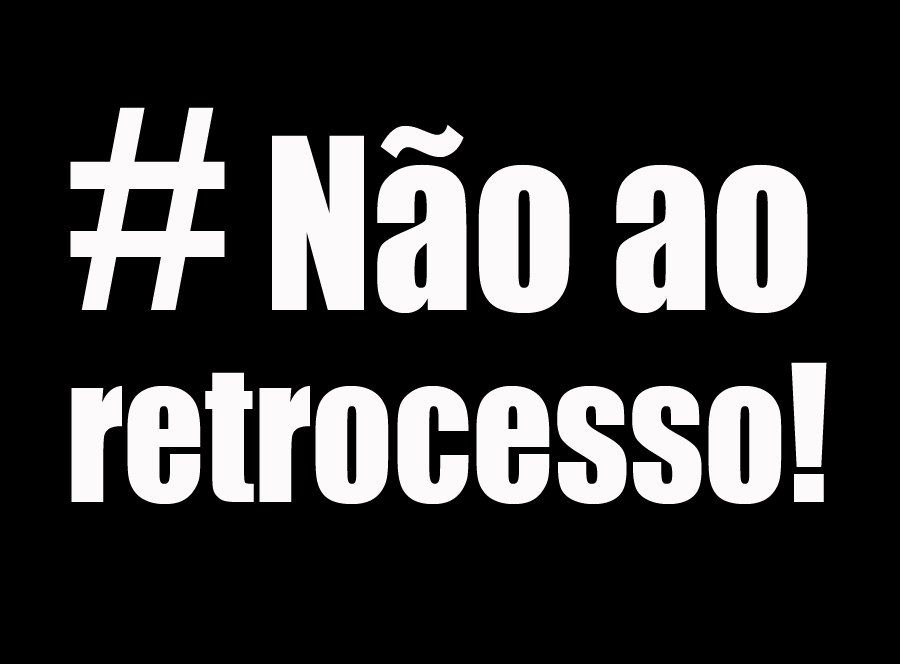O desafio da harmonização entre publicidade e proteção de dados pessoais
As múltiplas facetas da LGPD
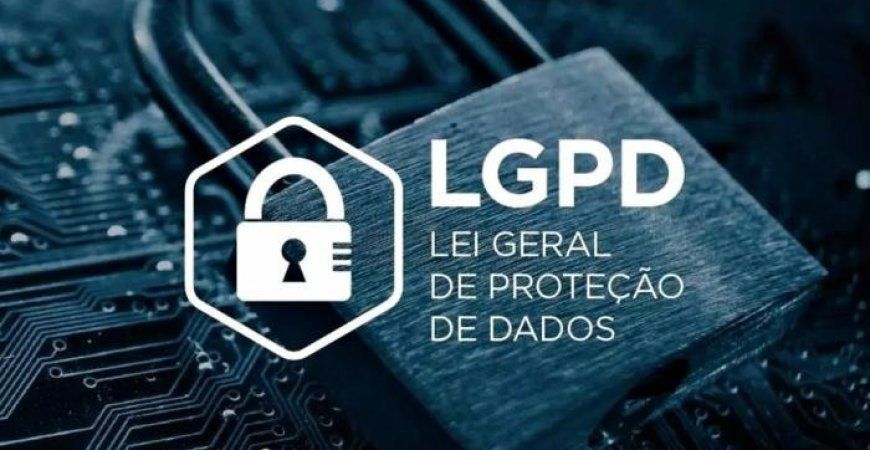
Este artigo é o primeiro de uma série acerca do acesso a dados de processos judiciais no Brasil e que se baseará no relatório sobre o tema do Instituto Lawgorithm, o qual foi fruto de uma profunda pesquisa dogmática, jurisprudencial, empírica e de Direito Comparado [1].
O acesso a dados de processos eletrônicos encontra-se regulado na Resolução nº 121/2010 do CNJ [2]. Tal resolução prevê, em termos gerais, que qualquer pessoa pode consultar eletronicamente certos "dados básicos do processo", tais como o nome das partes e de seus advogados e o inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos. Trata-se da "consulta processual" disponibilizada nos sites dos tribunais conforme esses parâmetros do CNJ. Já os autos eletrônicos completos, incluindo os documentos juntados pelas partes, não são acessíveis ao público. Seu conteúdo, entretanto, pode ser consultado por advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público, mesmo que não vinculados ao processo, mas desde que previamente identificados no sistema do tribunal, o que amplia bastante o rol de pessoas autorizadas ao acesso. Percebe-se, assim, que a Resolução 121/2010 está alinhada com uma forte tradição brasileira da mais ampla publicidade dos processos judiciais [3].
Entretanto, será inevitável uma discussão acerca da compatibilidade dessa publicidade ampla dos processos eletrônicos com a LGPD. Os processos judiciais estão coalhados de dados pessoais, tanto nos dados básicos processuais de consulta livre na internet (em especial nos pronunciamentos judiciais) quanto nos autos eletrônicos de acesso mais restrito (por exemplo nos documentos de identidade e enderenço das partes). Ou seja, com a promulgação da LGPD, o Brasil encontra-se diante do desafio de revisitar o alcance da publicidade dos processos judiciais eletrônicos para compatibilizá-la com a proteção de dados pessoais, também elevada ao status constitucional pelo STF, em decisão de maio de 2020 que reconheceu o direito fundamental à autodeterminação informacional [4]. Vale ressaltar que esse tema não foi enfrentado pela recente Resolução nº363/2021 do CNJ, que trata da adequação do Poder Judiciário à LGPD, mas não alterou qualquer aspecto da política de acesso aos dados de processos eletrônicos.
Ao mesmo tempo, a coleta de dados processuais nos sites dos tribunais é fundamental para o mercado jurídico e para comunidade científica. Assim, a disponibilização maciça de dados pelos tribunais vem fomentando o surgimento de um ecossistema de legaltechs: startups, cujo principal insumo são os dados de processos judiciais, com os quais são desenvolvidas metodologias de análise de dados (big data) que permitem realizar uma série de diagnósticos sobre o desempenho do Judiciário no Brasil, bem como para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, sistemas de mineração de dados e de predições.
A presente série e o relatório do Lawgorithm têm como objetivo contribuir para o debate sobre como desenvolver uma política de dados abertos nos tribunais, que compatibilize o princípio da publicidade judicial com a proteção de dados pessoais, e que seja capaz de fomentar o desenvolvimento tecnológico no Brasil.
Nesse debate, é curioso notar que Brasil e Europa seguem caminhos diversos para chegar ao mesmo lugar. Diferentemente do Brasil, a Europa possui uma longa tradição em proteção de dados pessoais, adotando posições restritivas em relação a dados de processos judiciais, principalmente em relação aos documentos dos autos, mas também em relação à identificação das partes, muitas vezes ocultadas nas publicações dos pronunciamentos judiciais. Hoje, contudo, diversos países europeus buscam implementar uma política de dados abertos, em especial após a Diretiva 2013/37/UE , com o objetivo, não só o controle democrático da atividade do judiciário, mas também o desenvolvimento dos mercados de tecnologia que utilizam esses dados, considerando-se o desenvolvimento inferior desses mercados na Europa quando comparado, por exemplo, aos Estados Unidos da América.
O tema é complexo e de imensa relevância prática. O primeiro passo, contudo, para responder a esses questionamentos é analisar o sentido e o alcance do princípio da publicidade, previsto pelo constituinte de 1988 como princípio geral da Administração Pública no artigo 37, caput, da Constituição, muito antes, assim, de qualquer preocupação efetiva com a proteção de dados pessoais no Brasil.
Antes, porém, de fornecer uma definição, é necessário fazer uma distinção terminológica entre "publicidade" e "transparência", as quais, por vezes, são consideradas sinônimas. O termo "transparência" é, contudo, mais recente no vocabulário político-jurídico, e está longe de ser axiologicamente neutro [5]. De fato, a ideia de transparência surgiu nos EUA como um termo tecnocrático e só ingressou de vez no vocabulário jurídico na década de 90 [6], o que explica o fato de o texto original da Constituição não o utilizar. Somente nos anos 2000 foi que o "princípio da transparência" passou a elencada em diversos diplomas normativos, como no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), o artigo 4º da Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público (Lei Nº 13.460/2017), e na próprio Constituição Federal, em emendas recentes (por exemplo na Emenda 103/2019). Já a ideia de "publicidade" (publicity, öffentlichkeitsprinzip) é bem mais antiga e remonta ao próprio Iluminismo de Bentham e Kant. Portanto, ao se definir "publicidade" por meio do termo "transparência", corre-se o risco de ser anacrônico. É claro que há uma forte relação entre as ideias de publicidade e transparência, mas não são palavras sinônimas.
Feita essa distinção terminológica, o princípio da publicidade pode ser definido, em uma primeira acepção, como o dever estatal de disponibilizar à sociedade as informações criadas, coletadas ou armazenadas pelo Estado a fim de possibilitar o controle e a participação democráticos [7]. Por esta definição, a publicidade abrange não apenas as informações sobre os "atos da Administração" [8], mas também informações coletadas ou meramente armazenadas pelo Estado.
Nesse primeiro sentido, a "publicidade" é norma de conduta estatal, dever de disponibilizar informações ao "público". E sua concretização pode ser feita por meio de duas metodologias diversas [9]. De um lado, como um "valor em si mesmo" essencial ao Estado democrático, em uma visão deontológica, e que corresponde mais de perto ao conceito iluminista de “publicidade”. Por outro lado, apenas como uma mera técnica administrativa, um meio para atingir outros fins [10], em uma visão consequencialista, correspondente à ideia de "transparência" tecnocrática.
Pela primeira deontológica, argumenta-se que a publicidade é indispensável à democracia [11], uma vez que o cidadão somente pode exercer seus direitos políticos se tiver informações suficientes sobre a atividade estatal. A publicidade se confunde aqui com a "dimensão informacional" [12] da democracia, do "regime de poder visível", conforme citadíssima [13] passagem de Norberto Bobbio.
Já como técnica administrativa, a publicidade é apenas um meio voltado para consecução de certas finalidades concretas almejadas pela Administração. Trata-se da "transparência", propagada como uma "cura" para a corrupção e o abuso de autoridade. Fala-se, inclusive, em tipos diferentes de transparência (ativa, passiva, política de dados abertos, transparência horizontal, transparência vertical, etc.) de que pode lançar mão o administrador para atingir seu fim [14].
Essas duas abordagens (deontológica e consequencialista) são, em realidade, complementares a depender da análise a ser feita. No controle de constitucionalidade, por exemplo, a publicidade é concebida como um valor essencial à democracia. Por outro lado, ao se desenhar a política de dados de um órgão administrativo, a publicidade deve ser vista como técnica. Deve-se pensar qual o objetivo a atingir (controle democrático, aumento de eficiência, proteção de interesses de terceiros), quais os tipos de informações necessárias, qual o modo, passivo ou ativo, para conferir acesso, e qual a maneira mais econômica de se disponibilizar os dados etc.
Há ainda uma segunda acepção do princípio da publicidade, segundo a qual um ato normativo (em sentido amplo) somente será válido ou eficaz após sua publicação, normalmente nos órgãos oficiais. Trata-se da publicidade como condição de validade e eficácia (e não como norma de conduta). E são várias as previsões legais de publicação de atos normativos como condição de eficácia ou validade. Por exemplo, o artigo 1º da LINDB estabelece que "a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada".
Inicialmente, percebe-se uma diferença estrutural entre a publicidade como norma de conduta (primeira acepção supra) e a publicidade como condição de validade e eficácia (segunda acepção). Aquela regula o comportamento do Estado e torna certas condutas obrigatórias (disponibilizar um certo documento solicitado pelo cidadão, publicar orçamento e outros relatórios etc.). Trata-se, logo, de publicidade enquanto regra primária de comportamento. Já a publicidade na segunda acepção regula a criação válida e eficaz de outras regras. É, assim, regra secundária [15]. Os dois significados de publicidade funcionam, portanto, em níveis normativos distintos e, por conta disso, denominaremos a primeira de publicidade de primeiro grau e a segunda de publicidade de segundo grau.
Os objetivos dessa publicidade de segundo grau vão além do controle e participação democráticos [16] e consistem também em garantir a segurança jurídica, a presunção de conhecimento de determinados fatos e normas pelos destinatários, e justificar uma oponibilidade erga omnes [17]. Trata-se de garantia importante do Estado de Direito, cujo um dos elementos centrais é justamente que as leis e atos normativos sejam de "conhecimento público" [18], que as regras sejam promulgadas de forma pública [19]. Somente com a divulgação e a publicação do texto normativo, podem os destinatários adaptar o seu comportamento e ter a oportunidade de cumpri-la.
Diante disso, também o Poder Judiciário está sujeito à publicidade de segundo grau, quando "cria" normas. Hoje, em especial diante da teoria dos precedentes vinculantes, considera-se que a jurisprudência é fonte do direito. Ou seja, a decisão judicial não apenas aplica o direito ao concreto, como produz uma nova norma que serve de diretriz para casos análogos e futuros. Assim, essas normas jurisprudenciais devem ser "publicadas" para que os destinatários possam ter ciência do seu teor e, se for o caso, adaptar o seu comportamento. A publicidade da jurisprudência tem um papel central para previsibilidade e a segurança jurídica .
Em suma, essa distinção entre publicidade de primeiro e de segundo grau pode orientar a análise de possíveis alterações à política de acesso a dados de processos judiciais dos tribunais. É preciso, de um lado, verificar quais são os deveres informacionais, impostos constitucional e legalmente aos tribunais (publicidade de primeiro grau), e como tais normas garantem o controle externo sobre a atividade judiciária. Além disso, deve-se pensar como a publicação das decisões é também uma garantia da segurança jurídica (publicidade de segundo grau). Apenas a partir do significado e o escopo da publicidade constitucional é que se pode construir o correto entendimento sobre a adequada proporção e medida entre a publicidade e a proteção de dados pessoais.
Por Juliano Maranhão e Rafael Campedelli Andrade
referências bibliográficas no site:
https://www.conjur.com.br/2021-fev-02/direito-digital-harmonizacao-entre-publicidade-protecao-dados-pessoais